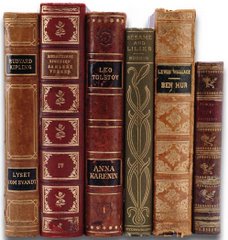Quando tive pela primeira vez a consciência de quem sou, automaticamente me estatizei olhando incógnito olhando para o espelho, nesse mesmo instante (seja por aflição, seja pelo deslumbre da tamanha descoberta) superei a opinião dos meus genitores, dos quais ou por amor ou por insegurança, iludiram-me com qualidades que nunca foram minhas.
Sou (assim sinto, entendo, percebo...) como um incógnito raquítico de rosto largo e chato. Meus olhos de tão fundos se esgoelam num espaço profundo e escuro, porém retém em suas inexpressivas depressões um brilho-reflexo do globo, sempre fosco, sempre rouco... Se um dia for possível chamar as finas faixas vermelha-tijolo de lábios, talvez conseguirei dominar as profundas raízes dérmicas do conjunto face e talvez um sorriso mal elaborado seria exprimido... mas sou um feio triste e agora, um feio que sente o seu próprio peso.
Posso sentir a pena recalcada pela mentira. Senti (instantaneamente) pena e ódio das duas únicas pessoas das quais amei cativado, eles – grito em silêncio - deduziram-me do real! Fui comprado por palavras adocicadas com veneno quimérico e o legado que embrulharam tão cerimoniosamente chamei de repúdio. Ou seja, a incapacidade de amar a mim mesmo por não ser o que sempre fui, sou (concluo) um vazio feio... Pior! Eu fui um prisioneiro, vontade cativada na vontade de outros, a minha essência era mentira, os meus ensejos eram falácias... Ao menos agora, sou uma falácia conhecedora das suas próprias limitações...
Assim, quase que por ritual, gasto os olhos e as horas olhando-me no espelho, demarcando cada novo contorno. Criei mapas de mim mesmo, ludibriei-me em signos insensíveis. Cada parte tinha no conjunto um fim fundamental (das quais formalmente compreendia) e seja por insegurança ou loucura guardei centímetro por centímetro desse eu meu novo arcabouço imaginário, pois se algo mudasse como poderia saber ou lembrar do que eu realmente era? Se isso acontecesse, esse eu seria eu? Ou seria um desconhecido? Digo, um estranho?
Por isso olhei-me vorazmente no espelho, e logo senti um desejo rigoroso de permanecer feio, pois agora tudo era provido de uma estirpe de hipócritas e o todo simplesmente me causava asco. Nem o que considerava por belo o era. A expressão possível seria feita por ato: pintaria em negro a palavra NULO! E intimamente pude dizer a mim mesmo confirmando: “esse belo é Dela... foi Ele que achava isso bonito...”. E mal percebi, que seguidamente insistia o meu olhar naquela figura bizarra refletida no espelho a qual me proporcionava ora por impulso ora por espanto, um prazer confirmador de êxtase: “isso sim, é uma pessoa feia”.
Agora, ao sair, encarava a todos com pura ironia, estampava em meu feio “sorriso” [o que eu poderia designar como sorriso] um ar de superioridade, digo se não, de entrega total da minha vontade. E assim fui o homem menos hipócrita existente, pois, também percebei que o resto era consumido por uma ridícula confusão de beleza-suja e maquilagem monstruosa. Afora também pude encontrar outros feios, mas estes eram embonecados e submissos do desejo escravo de beleza. Eram falso-feios, restos sem identidade e por isso a minha maior diversão tornou-se passar as horas perdido na fixação do único outro tão puramente feio quanto eu: o meu reflexo...
Facilmente uma consciência brotava daquela imagem, mas ela sempre seria incorporada pelo profundo silêncio que nos separava e pude imaginar que o mesmo acontecia para o outro no seu lado... A camada de vidro precariamente polida demarcava a sina das duas realidades. E nem por isso não seria impossível a compreensão de todos os segredos e estórias transmitidas por milhões de expressões corporais, linguagens magníficas livre-intuitivas, pois as palavras pareciam agora, uma expressão infantil ou mesmo incoerente. A completude era comprimida de segundo em segundo, sem erros ou desvios típicos lingüísticos... Alegria era uma forma de sorrir, olhar, respirar, cantar; tristeza era pela boca livremente inclinada, pelo movimento estático dos olhos e mecânicos em todo corpo. Tudo era compreendido fluidicamente.
As palavras assim foram perdendo uso, e notei-me deslocado quase infinitamente do exterior desse lago, e logo, pelo que o médico disse: “... esquizofrênico...”, pude perceber que o único vínculo com os estranhos era ou o meu corpo o qual simbolizava a forma de um suposto filho ou as antigas lembranças (ignoradas é claro) e conclui quase maquinalmente que a verdadeira função dos meus pais havia sido a de me fazer um escravo do belo-humano e a melhor forma de me afastar dessa demarca ética, foi a de me tornar um mudo-verbal e gênio na arte da fala corpórea, vivido num novo itinerário, numa vida simples e nua para mim e para o outro... até a porta do quarto ser trancada, lacrada e por fim... Esquecida.
Em pouco tempo os outros desistiram de invadir o nosso território, contentados (no devido tempo) aflitivamente com a minha única e última frase: “... comida...”. E traziam-na no que pelo começo era uma grande cerimônia, depois ritos e por fim cotidiano lúdico e desgostoso da lembrança de um espectro.
Dia após dia nos tornávamos mais íntimos, mais seguros de nossas concepções, mal podíamos perceber o tempo e logo compreendemos que o tempo era mais uma invenção tola de controle dos belos (novos e velhos). Assim tornávamos instantaneamente passado, presente e futuro, fluxo rufante da eternidade absoluta de nossos vertiginosos gestos profundos. Deste novo universo, o outro me proporcionou uma percepção tão nítida da minha consciência, do meu estado, que inevitavelmente criei um juízo sobre as minhas necessidades e aos poucos reformulei todos os valores impostos e cravados no meu ser... Primeiro retirei a roupa como símbolo maior de liberdade, e a nudez assim (tanto para mim quanto para o ser no reflexo), tornava o feio um ar puro límpido nunca percebido nos corpos crentes por beleza. O resto a partir deste ponto foi-se dissolvido numa metamorfose inconstante. Fechei a janela que banhava-me à luz todas as manhãs, fundi-me ao chão na deriva das noites e sentia-me parte do mundo. Por fim perdi toda a fome existente, o meu corpo se conservava pela força construtiva do meu pensamento, se havia alguma necessidade, essa seria a profunda necessidade de entrar em contato com o outro...
Esta necessidade passou pelo limite da existência e da convivência, uma crise obsessa de contato, onde o espaço se tornava uma arma de opressão tanto paras os sentidos quanto para a própria vontade. Se o ato de fechar os olhos me comprometia pela necessidade de fuga, virtualmente modelei a imagem do outro, que em nossa própria linguagem convocava, seduzia, encantava e me fazia perder a consciência de ter consciência, tornei assim um escravo desse desejo. Com as mãos no vidro, chorei, amei, horrorizei, calei e fiz esquecida toda a realidade recriada. E construí nessa neurose a mais nova e última existência... Era o olhar eqüitante do outro pelo qual acreditei que a reciprocidade da vontade, pois, quanto mais profundos eram os meus gestos de angústias, mais via nos seus possíveis reflexos transparentes a dor e a penúria sincrônicas. Vivíamos num estado de um para o outro, realidades distantes, mas eternamente nossa.
Mal percebi que a resposta encontrada pelo meu último rastro de instinto sobrevivente havia sido de tornar mudo o corpo e na própria prática-estática de se tornar uma estatua, o conforto foi se colidindo com o real e o real se tornava calmamente uma frenesi... O fim somente veio quando mudo atirei-me no espelho, feliz e pleno.
Por fim, restava o filete de sangue saindo do escuro e perdido dado ao silêncio da alcova...
Moreno B.